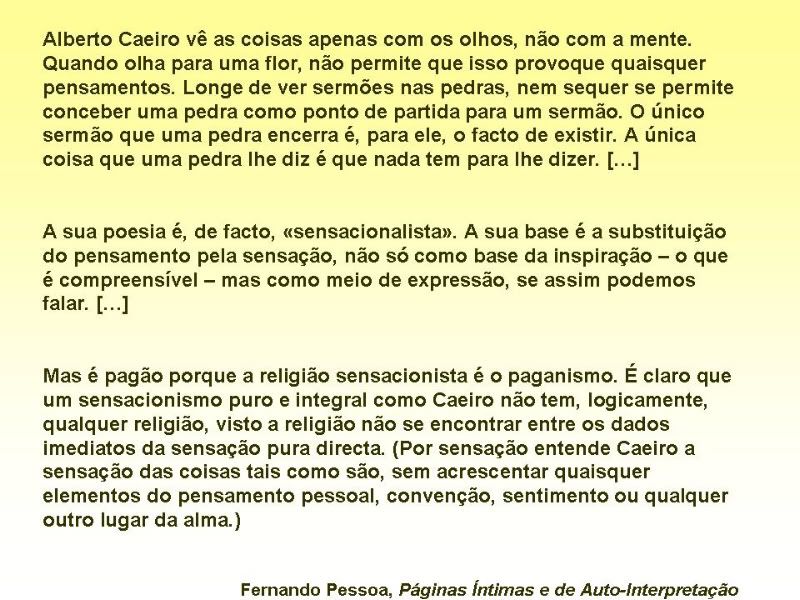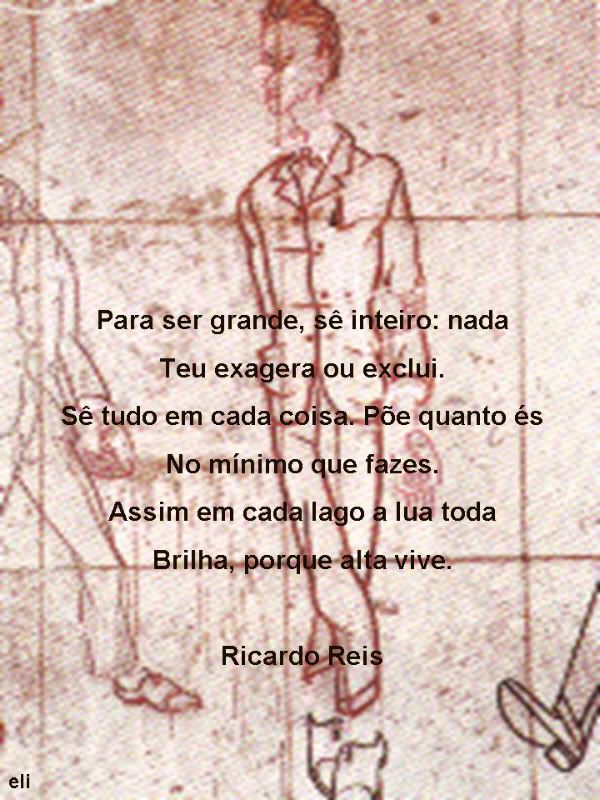12º H : "sempre na lua"
73ª aula - 18 de Abril de 2007
Nunca o Silvestre tinha tido uma pega com ninguém. Se às vezes guerreava, com palavras azedas para cá e para lá, era apenas com os fundos da própria consciência. Viúvo, sem filhos, dono de umas leiras herdadas, o que mais parecia inquietá-lo era a maneira de alijar bem depressa o dinheiro das rendas. Semeava tão facilmente as economias, que ninguém via naquilo um sintoma de pena ou de justiça — mesmo da velha —, mas apenas um desejo urgente de comodidade. Dar aliviava. Pregavam-lhe que o Paulino ia logo de casa dele derretê-lo em vinho, que o Carmelo não comprava nada, livros ou cadernos ao filho, que andava na instrução primária. As moedas rolavam-lhe para dentro da algibeira e com o mesmo impulso fatal rolavam para fora, deixando-lhe, no sítio, a paz.
Ora um domingo, o Silvestre ensarilhou-se, sem querer, numa disputa colérica com o Ramos da loja. Fora o caso que ao falar-lhe, no correr da conversa, em trabalhadores e salários, Silvestre deixou cair que, no seu entender, dada a carestia da vida, o trabalho de um homem de enxada não era de forma alguma bem pago. Mas disse-o sem um desejo de discórdia, facilmente, abertamente, com a mesma fatalidade clara de quem inspira e expira. Todavia, o Ramos, ferido de espora, atacou de cabeça baixa:
— Que autoridade tem você para falar? Quem lhe encomendou o sermão?
— Homem! — clama o Silvestre, de mão pacífica no ar. — Calma aí, se faz favor. Falei por falar.
— E a dar-lhe. Burro sou eu em ligar-lhe importância. Sabe lá você o que é a vida, sabe lá nada. Não tem filhos em casa, não tem quebreiras de cabeça. Assim, também eu.
— Faço o que posso — desabafou o outro.
— E eu a ligar-lhe. Realmente você é um pobre diabo, Silvestre. Quem é parvo é quem o ouve. Você é um bom, afinal. Anda no mundo por ver andar os outros. Quem é você, Silvestre amigo? Um inócuo, no fim de contas. Um inócuo é o que você é.
Silvestre já se dispusera a ouvir tudo com resignação. Mas, à palavra “inócuo”, estranha ao seu ouvido montanhês, tremeu. E à cautela, não o codilhassem por parvo, disse:
— «inoque» será você.
Também o Ramos não via o fundo ao significado de inócuo. Topara por acaso a palavra, num diálogo aceso de folhetim, e gostara logo dela, por aquele sabor redondo a moca grossa de ferros, cravada de puas. Dois homens que assistiam ao barulho partiram logo dali, com o vocábulo ainda quente da refrega, a comunicá-lo à freguesia:
— Chamou-lhe tudo, o patife. Só porque o pobre entendia que a jorna de um homem é fraca. Que era um paz-de-alma. E um «inoque».
— Que é isso de «inoque»?
— Coisa boa não é. Queria ele dizer na sua que o Silvestre não trabalhava, que era um lombeiro, um vadio.
Como nesse dia, que era domingo, Paulino entrara em casa com a bebedeira do seu descanso, a mulher praguejou, como estava previsto, e cobriu o homem de insultos como não estava inteiramente previsto:
— Seu bêbado ordinário. Seu «inoque» reles.
Quando a palavra caiu da boca da mulher, vinha já tinta de carrascão. E desde aí, «inoque» significou, como é de ver, vadio e bêbado.
Ora tempos depois apareceu na aldeia um sujeito de gabardina, a vender drogas para todas as moléstias dos pobres. Pedra de queimar carbúnculos, unguentos de encoirar, solda para costelas quebradas. Vendeu todo o sortido. Mas logo às primeiras experiências, as drogas falharam. Houve pois necessidade de marcar a ferro aquela roubalheira de gabardina e unhas polidas. E como o vocabulário dos pobres era curto, alguém se lembrou da palavra milagrosa do Ramos. Pelo que, «inoque» significou trampolineiro ou ladrão dos finos. Mas como havia ainda os ladrões dos “grossos”, não foi difícil meter dentro da palavra mais um veneno.
Como, porém, as desgraças e a cólera do povo pediam cada dia termos novos para se exprimirem, “inócuo” foi inchando de mais significações. Quando a Rainha deu um tiro de caçadeira, num dia de arraial, ao homem da amante, chamaram-lhe, evidentemente, «inoque», por ser um devasso e um assassino de caçadeira. Daí que fosse fácil meter também no «inoque» o assassino de faca e a cróia de porta aberta.
“Inócuo” dera a volta à aldeia, secara todo o fel das discórdias, escoara todo o ódio da população. A moca grossa de ferro, seteada de puas, era agora uma arma terrível, quase desleal, que só se usava quando se tinha despejado já toda a cartucheira de insultos. Até que o Perdigão dos Cabritos entrou pela ponte norte da aldeia, com o cavalo carregado de reses, num dia de feira, e se azedou com o taberneiro, quando trocava um borrego por vinho. De olhos chamejantes, perdido, já no quente da refrega, o taberneiro atirou-lhe o verbo da maldição. Houve quem achasse desmedida a vingança do homem. Perdigão arriou:
— «Inoque» será você.
Também ele não sabia que veneno tinham despejado na palavra, mas, pelo sim pelo não, aliviou. E pela tarde, enfardelou o termo infame com as peles da matança, e abalou com ele pela ponte sul. Longos meses a palavra maldita andou por lá a descarregar o ódio das gentes. Até que um dia voltou a entrar na aldeia, não já pela ponte sul que dava para a Vila, mas pela ponte norte que levava a terras sem nome. Vinha em farrapos, na boca de um caldeireiro, mais estropiada, coberta da baba de todos os rancores e de todos os crimes. Quando deitava um pingo num caneco de folha, o caldeireiro pegou-se de razões com o freguês. O dono do caneco correu uma mão amiga pelas costas do vagabundo:
— Lá ver isso, velhinho. O combinado foram cinco tostões.
— Não me faça festas que eu não sou mulher, seu «inoque» reles.
E “inócuo” significou um nome feio para um homem. Então o ajudante, ou o que era, do caldeireiro, tentou deitar água na fogueira.
— Cale-se também você, seu «inoque» ordinário. A mim não me mata você à fome como fez a seu pai.
Porque “inócuo” também queria dizer parricida. Então o Ramos, que passava perto, tomou a palavra excomungada nas mãos e pediu ao velho que a abrisse, para ver tudo o que já lá tinha dentro. Um cheiro pútrido a fezes, a pus, a vinagre, alastrou pelo espanto de todos em redor. Com os dedos da memória, o caldeireiro foi tirando do ventre do vocábulo restos de velhos significados, maldições, ódios, desesperos. “Inócuo” era “bêbado”, ‘ladrão”, “incendiário’, ‘pederasta’, e, uma que outra vez, um desabafo ligeiro como “poça” ou “bolas”. Para o calão da gente fina, que topara a palavra na cozinha, nos trabalhos do campo, soube-se um dia que significava ainda 'escroque', «souteneur», e mais.
A aldeia em peso tremeu. Era possível a qualquer apanhar com o palavrão na cara e ficar coberto de peste. Eis porém que uma vez o filho do Gomes, que andava no colégio da Vila, insultado de «inoque» por um colega, numa partida de bilhar, lembrou-se à noite de ver no dicionário a fundura vernácula da ofensa. Procurou «inoque». Não vinha. Procurou «noque». Também não vinha. Furioso, buscou à toa, «quinoque», «moque», «soque». Nada. Quando a mãe o procurou, para ver se estudava, encontrou-o às marradas no dicionário. Choroso, o rapaz declarou:
— O meu «pagnon» chamou-me «inoque», mãe. Queria saber o que era. Mas não vem no dicionário.
— Não vejas! — clamou a mulher, de braços no ar. — Deixa lá! Não te importes.
— Mas que quer dizer?
— Coisas ruins, meu filho. Herege, homem sem religião e mais coisas más. Não vejas!
Começaram então a aparecer as primeiras queixas no tribunal da Vila, contra a injúria de «noque», «inoque» e, finalmente, de “inócuo”, consoante a instrução de cada um. Como a palavra estropiada era um termo bárbaro nos seus ouvidos cultos, o juiz pedia a versão da injúria em linguagem correcta, sendo essa versão que instruía os autos.
— Chamou-me «noque».
— Absolutamente. Mas que queria ele dizer na sua?
— Pois queria dizer que eu era ladrão.
E escrevia-se “ladrão”. Pelo mesmo motivo, gravava-se a ofensa, de outras vezes, nos termos de “assassino”, “devasso”, ou “bêbedo”.
Ora um dia foi o próprio Bernardino da Fábrica que moveu um processo ao guarda-livros pela injúria de «inócuo». Metida a questão nos trilhos legais, o Bernardino procurou o juiz, para ver se podia ajustar, previamente, uma bordoada firme no agressor. Mas aí, o juiz atirou uma palmada à coxa curta, clamou:
— Homem! Agora entendo eu. «Noque» era ‘inócuo’!
E admitindo que o vocábulo contivesse um veneno insuspeito, pegou num dicionário recente, o último modelo de ortografia e significados. Então pasmou de assombro, perante o escuro mistério que carregara de pólvora o termo mais benigno da língua: “inocuo’ significa apenas «que não faz dano, inofensivo”. E pôs o dicionário aberto diante da ofensa de Bernardino. O industrial carregou a luneta, e longo tempo, colérico, exigiu do livro insultos que lá não estavam.
— Nada feito — repetia o juiz. — O homem chamou-lhe, correctamente, “pessoa incapaz de fazer mal a alguém”.
— Mas há a intenção — opôs o advogado, mais tarde, quando se voltou ao assunto. — Há o sentido que toda a gente liga à palavra.
— Nada feito — insistia o juiz. — “Inócuo” é ‘inofensivo’ até nova ordem.
Então o advogado desabafou. Também ele sabia, como toda a gente culta, que “inócuo” era um pobre diabo dum termo que não fazia mal a ninguém. Sabia-o, com um saber analítico, desde as aulas de Latim do seu Padre Mestre. Mas não ignorava também que o ódio humano nem sempre conseguia razões para se justificar. E nesse caso, qualquer palavra, mesmo inofensiva, era um pendão desfraldado no pau alto da vingança. Bernardino fora ofendido. Mas podia querer amanhã ofender e as razões serem curtas para o seu rancor. Uma palavra informe, soprada de todos os furores, seria então a melhor arma. Despir o mastro da bandeira seria desnudar-se na dureza bárbara do pau. ‘Inócuo’ era uma maravilha para a última defesa da racionalidade humana, pelos ocos esconderijos onde podiam ocultar-se todos os rancores e maldições. “Inócuo” era um benefício social. Não havia que emendar-se a vida pelo dicionário. Havia que forçar-se o dicionário a meter a vida na pele.
— Cultive-se o “inócuo”. Salvemo-lo, para nos salvarmos.
Desgraçadamente, porém, os receios do advogado eram vãos. A vida, de facto, emendara o dicionário. Como bola de neve, “inócuo” rolara do ódio alto dos homens e longo tempo levaria a derreter o calor da compreensão e da justiça. Foi assim que o filho do Gomes, depois de ter encontrado a correspondência vernácula da injúria do «pagnon», tentou reabilitar a palavra excomungada. Esbaforido, foi com o dicionário aberto no sítio maldito, da mãe para o pai, do pai para os amigos. Mas ninguém o entendeu. «Noque» ou “inócuo” era um anátema verde de pus.
— Que importa o que dizem? — clamou o heroísmo do rapaz. — Podem chamar-me «inoque» ou “inócuo”, que não ligo. Agora sei o que quer dizer.
Dias depois, porém, um colega precisou de o insultar, e arremessou-lhe outra vez com o termo nefando. Toda a gente conhecia já a opinião do dicionário. Mas o furor era sempre mais forte do que o simples livro impresso.
Pelo que, nessa noite, o filho do Gomes não dormiu, preocupado apenas com descobrir uma maneira profícua de sovar bem o colega, para desforra integral.
Vergílio Ferreira, Contos
45ª aula - 23 de Janeiro de 2007
O HOMEM
Era uma tarde do fim de Novembro, já sem nenhum Outono.
A cidade erguia as suas paredes de pedras escuras. O céu estava alto, desolado, cor de frio. Os homens caminhavam empurrando-se uns aos outros nos passeios. Os carros passavam depressa.
Deviam ser quatro horas da tarde de um dia sem sol nem chuva.
Havia muita gente na rua naquele dia. Eu caminhava no passeio, depressa. A certa altura encontrei-me atrás de um homem muito pobremente vestido que levava ao colo uma criança loira, uma daquelas crianças cuja beleza quase não se pode descrever. É a beleza de uma madrugada de Verão, a beleza de uma rosa, a beleza do orvalho, unidas à incrível beleza de uma inocência humana.
Instintivamente o meu olhar ficou um momento preso na cara da criança. Mas o homem caminhava muito devagar e eu, levada pelo movimento da cidade, passei à sua frente. Mas ao passar voltei a cabeça para trás para ver mais uma vez a criança.
Foi então que vi o homem. Imediatamente parei. Era um homem extraordinariamente belo, que devia ter trinta anos e em cujo rosto estavam inscritos a miséria, o abandono, a solidão. O seu fato, que tendo perdido a cor tinha ficado verde, deixava adivinhar um corpo comido pela fome. O cabelo era castanho-claro, apartado ao meio, ligeiramente comprido. A barba por cortar há muitos dias crescia
Como contar o seu gesto?
Era um céu alto, sem resposta, cor de frio. O homem levantou a cabeça no gesto de alguém que, tendo ultrapassado um limite, já nada tem para dar e se volta para fora procurando uma resposta: A sua cara escorria sofrimento. A sua expressão era simultaneamente resignação, espanto e pergunta. Caminhava lentamente, muito lentamente, do lado de dentro do passeio, rente ao muro. Caminhava muito direito, como se todo o corpo estivesse erguido na pergunta. Com a cabeça levantada, olhava o céu. Mas o céu eram planícies e planícies de silêncio.
Tudo isto se passou num momento e, por isso, eu, que me lembro nitidamente do fato do homem, da sua cara, do seu olhar e dos seus gestos, não consigo rever com clareza o que se passou dentro de mim. Foi como se tivesse ficado vazia olhando o homem.
A multidão não parava de passar. Era o centro do centro da cidade. O homem estava sozinho, sozinho. Rios de gente passavam sem o ver.
Só eu tinha parado, mas inutilmente. O homem não me olhava. Quis fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Era como se a sua solidão estivesse para além de todos os meus gestos, como se ela o envolvesse e o separasse de mim e fosse tarde de mais para qualquer palavra e já nada tivesse remédio. Era como se eu tivesse as mãos atadas. Assim às vezes nos sonhos queremos agir e não podemos.
O homem caminhava muito devagar. Eu estava parada no meio do passeio, contra o sentido da multidão.
Sentia a cidade empurrar-me e separar-me do homem. Ninguém o via caminhando lentamente, tão lentamente, com a cabeça erguida e com uma criança nos braços rente ao muro de pedra fria.
Agora eu penso no que podia ter feito. Era preciso ter decidido depressa. Mas eu tinha a alma e as mãos pesadas de indecisão. Não via bem. Só sabia hesitar e duvidar. Por isso estava ali parada, impotente, no meio do passeio. A cidade empurrava-me e um relógio bateu horas.
Lembrei-me de que tinha alguém à minha espera e que estava atrasada. As pessoas que não viam o homem começavam a ver-me a mim. Era impossível continuar parada.
Então, como o nadador que é apanhado numa corrente desiste de lutar e se deixa ir com a água, assim eu deixei de me opor ao movimento da cidade e me deixei levar pela onda de gente para longe do homem.
Mas enquanto seguia no passeio rodeada de ombros e cabeças, a imagem do homem continuava suspensa nos meus olhos. E nasceu em mim a sensação confusa de que nele havia alguma coisa ou alguém que eu reconhecia.
Rapidamente evoquei todos os lugares onde eu tinha vívido. Desenrolei para trás o filme do tempo. As imagens passaram oscilantes, um pouco trémulas e rápidas. Mas não encontrei nada. E tentei reunir e rever todas as memórias de quadros, de livros, de fotografias. Mas a imagem do homem continuava sozinha: a cabeça levantada que olhava o céu com uma expressão de infinita solidão, de abandono e de pergunta.
E do fundo da memória, trazidas pela imagem, muito devagar, uma por uma, inconfundíveis, apareceram as palavras:
- Pai, Pai, por que me abandonaste?
Então compreendi por que é que o homem que eu deixara para trás não era um estranho. A sua imagem era exactamente igual à outra imagem que se formara no meu espírito quando eu li:
- Pai, Pai, por que me abandonaste?
Era aquela a posição da cabeça, era aquele o olhar, era aquele o sofrimento, era aquele o abandono, aquela a solidão.
Para além da dureza e das traições dos homens, para além da agonia da carne, começa a prova do último suplício: o silêncio de Deus.
E os céus parecem desertos e vazios sobre as cidades escuras.
Voltei para trás. Subi contra a corrente o rio da multidão. Temi tê-lo perdido. Havia gente, gente, ombros, cabeças, ombros. Mas de repente vi-o.
Tinha parado, mas continuava a segurar a criança e a olhar o céu.
Corri, empurrando quase as pessoas. Estava já a dois passos dele. Mas nesse momento, exactamente, o homem caiu no chão. Da sua boca corria um rio de sangue e nos seus olhos havia ainda a mesma expressão de infinita paciência.
A criança caíra com ele e chorava no meio do passeio, escondendo a cara na saia do seu vestido manchado de sangue.
Então a multidão parou e formou um círculo à volta do homem. Ombros mais fortes do que os meus empurram-me para trás. Eu estava do lado de fora do círculo. Tentei atravessá-lo, mas não consegui. As pessoas apertadas umas contra as outras eram como um único corpo fechado. À minha frente estavam homens mais altos do que eu que me impediam de ver. Quis espreitar, pedi licença, tentei empurrar, mas ninguém me deixou passar. Ouvi lamentações, ordens, apitos. Depois veio uma ambulância. Quando o círculo se abriu, o homem e a criança tinham desaparecido.
Então a multidão dispersou-se e eu fiquei no meio do passeio, caminhando para a frente, levada pelo movimento da cidade.
**
Muitos anos passaram. O homem certamente morreu. Mas continua ao nosso lado. Pelas ruas.
Sophia de Mello Breyner Andresen, Contos Exemplares
experiência
30ª aula - 30 de Novembro de 2006
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
29ª aula - 29 de Novembro de 2006
28ª aula - 28 de Novembro de 2006
Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo...
Orientação de leitura:
1. Dividir o texto em duas partes lógicas.
2. Referir as especificidades da aldeia.
3. Interpretar os versos 3 e 4.
4. Caracterizar a cidade, de acordo com o olhar do poeta.
5. Mostrar que, nos dois últimos versos, «pequenos» está para «pobres», assim como «nossos olhos» está para «riqueza».
Funcionamento da língua:
1. Fazer o levantamento de:
1.1. Expressões em que se utiliza o verbo «ser»;
1.2. Orações subordinadas causais.
[in Página Seguinte, Filomena Martins Alves e Graça Bernardino Moura, Texto Editores (com adap.)
Archives
outubro 2005 novembro 2005 janeiro 2006 fevereiro 2006 março 2006 abril 2006 setembro 2006 outubro 2006 novembro 2006 dezembro 2006 janeiro 2007 abril 2007